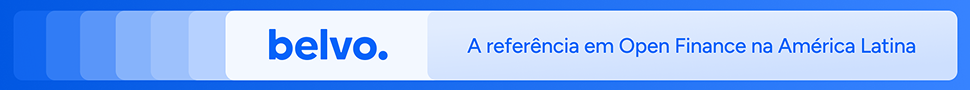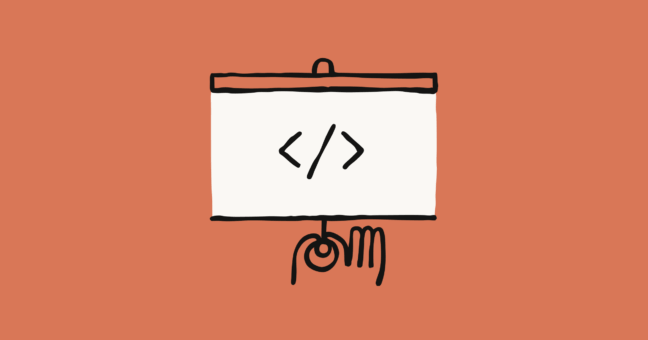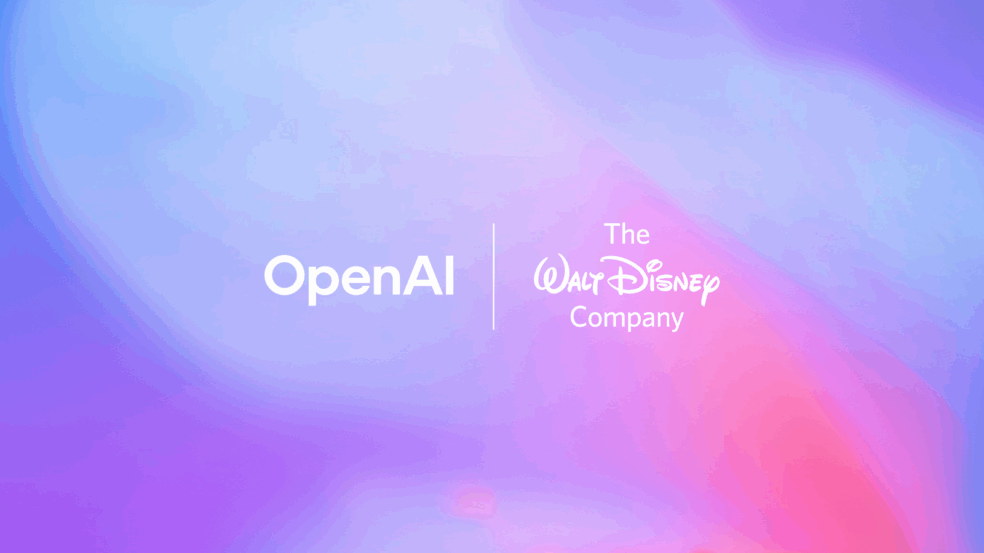
A última sexta feira começou para mim com uma notícia que traz um marco importante “OpenAI pagou 1 bilhão de dólares pra poder gerar imagens de personagens da Disney.” Independentemente do valor exato — que pode variar conforme contratos e licenças — o símbolo é inequívoco.
Um bilhão. Esse dinheiro não foi pago por “desenhos bonitos”. Foi pago pelo direito de acessar uma coisa muito mais valiosa: a capacidade de fazer Disney. O jeito Disney de existir.
E aí eu fiquei presa num pensamento: a gente acabou de entrar, com os dois pés, no conceito de propriedade intelectual dentro da IA.
Porque pensa comigo: a IA é super capaz de observar padrões. Ela não “inventa do nada”. Ela aprende por exposição. Ela assiste tudo o que já foi feito, tudo o que já foi criado, tudo o que já foi repetido até virar assinatura. A Disney, há décadas, construiu um repertório tão consistente, tão reconhecível, que virou quase um idioma. Um jeito de desenhar, de contar história, de movimentar emoções.
Se uma IA aprende esse idioma… ela fala. E fala com fluência.
Então, antes, como é que funcionava? A Disney vendia produtos. Serviços. Experiências. Filme, boneco, parque, trilha sonora. Ela vendia a obra pronta.
Agora, o jogo vira de um jeito quase indecente: em vez de vender o produto, você vende a capacidade. Você vende a máquina de produzir o produto. Você vende o agente.
Não é mais “a camiseta do Mickey”. É “o agente do Mickey”.
E é aqui que a coisa fica séria: se o agente do Mickey custa 1 bilhão… quanto custam os agentes que a sua empresa está criando sem perceber?
Porque a maioria das empresas ainda está vivendo num modelo mental antigo, como se o mundo fosse estático. As pessoas entram, trabalham, produzem, vão embora. E o que fica? Fica um pouco de tudo: um produto que alguém desenvolveu, clientes que alguém trouxe, um posicionamento que alguém definiu, uma metodologia que alguém espalhou nas entrelinhas.
Só que isso — esse “fica um pouco de tudo” — sempre foi difuso. Intangível. Meio invisível, quase impossível de separar e precificar. Era o famoso “capital humano” que, quando saía pela porta, deixava um buraco que a gente só notava quando o Excel não fechava ou quando a pessoa “era a única que sabia”.
Mas agora… agora é diferente.
O que estamos vivendo é a transformação do capital humano em capital operacional codificado.
Porque com agentes, você não deixa só um produto. Você deixa um motor. Você não deixa só um resultado. Você deixa um processo replicável. Você não deixa só um relatório. Você deixa um jeito de fazer relatório, com suas escolhas, seu raciocínio, seu caminho mental, seu timing de decisão, seus atalhos, seu repertório. Isso vai virar fluxo. Vai automatizar. Vai escalar.
Ou seja: o agente replica inclusive aquilo que antes era considerado “inegociável”: o processo de pensar.
E aí, desculpa, mas a gente precisa falar de consentimento. E de governança. E de preço.
Porque, quando você cria um agente com base na sua forma de trabalhar, na sua metodologia, no seu jeito de vender, de atender, de priorizar, de negociar, de interpretar dados… aquilo é propriedade intelectual. E propriedade intelectual tem valor. E valor, em empresa, tem que virar custo, preço, contrato, regra, clareza.
E aqui está acontecendo um tipo novo de compra e venda dentro do ambiente de trabalho.
Antes, o colaborador vendia seu tempo e seu conhecimento por um período. Agora, ele pode estar vendendo um pedaço da sua lógica. Um pedaço do seu cérebro operacional.
E a empresa, ao “comprar” isso — ao capturar, treinar, transformar em agente — precisa garantir uma coisa básica, quase óbvia, mas que costuma ser ignorada até virar processo judicial: consciência, consentimento e remuneração.
Porque imagina o cenário: a empresa cria um agente com base no trabalho de alguém, usa isso depois, escala, extrai valor, entrega para cliente… e lá na frente, descobre que aquilo pode ser impugnado. Que aquele agente não pode mais ser usado. Que você tem que “jogar fora” um ativo digital inteiro, porque faltou base jurídica lá no começo.
É como construir um prédio em cima de um terreno que não era seu — e descobrir isso quando já tem gente morando.
E aí a discussão muda de patamar: a gente entra numa era de repensar consentimentos. Não aquele consentimento teatral, escondido em letras miúdas, que ninguém lê e todo mundo finge que está tudo bem. Consentimento de verdade: claro, objetivo, rastreável, governável, ou seja, o consentimento com valor de contrato!
Porque, se a gente for até o limite do raciocínio, a sua capacidade intelectual vai aumentando todos os dias. Você aprende. Você ajusta. Você melhora. Você cria. E, a cada dia, a empresa pode estar gerando agentes, resultados, fluxos baseados nesse aprendizado incremental.
E como você consente isso? Em que momento você está vendendo só seu esforço — e em que momento está vendendo seu motor?
Porque não é apenas “um produto” que você entrega. É a possibilidade de gerar produtos repetidamente. Você deixa de gerar conteúdo e passa a gerar uma máquina de gerar conteúdo. Você deixa de fazer e passa a ensinar uma máquina a fazer como você faz.
Isso tem custo para empresa, sim — mas também tem valor para o colaborador. Isso precisa virar governança. Precisa virar política. Precisa virar precificação.
E tem mais: esse valor precisa ser mensurado para chegar à ponta. Precisa entrar no custo dos produtos e serviços. Porque se você está embutindo propriedade intelectual automatizada nos seus entregáveis e não está contabilizando isso, você está deixando potencial na mesa. Está subsidiando cliente com um ativo que você nem percebeu que criou.
No fundo, é um convite para uma grande maturidade organizacional: entender que estamos saindo da era do “trabalho” e entrando na era dos “ativos de trabalho”. Ativos que pensam, que repetem, que escalam. Ativos que carregam assinatura humana.
E, se eu puder resumir o nó central desse texto: a IA está transformando a propriedade intelectual em produto industrializável. E isso exige um motor de precificação e um motor de governança tão fortes quanto o motor de tecnologia.
Porque tecnologia sem governança vira risco. E tecnologia sem precificação vira caridade involuntária.
No fim das contas, eu volto para a pergunta que ficou ecoando na minha cabeça desde aquele “um bilhão” jogado no ar como se fosse detalhe:
Qual é o preço do seu Mickey?